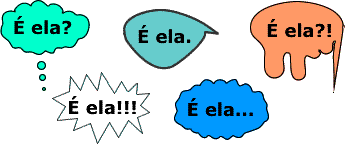A CRÔNICA
O que é?
Muito usada em textos jornalísticos publicados em jornais e
revistas, é escrita com uma linguagem simples e coloquial,
que torna a leitura mais fácil e agradável. E também permite que o leitor se
sinta amigo do cronista, já que o texto é desenvolvido em tom de conversa
informal.
A crônica é
um tipo de texto que tem prazo de validade por
se tratar de um assunto atual, geralmente uma crítica ou comentário sobre algo
que está sendo debatido no momento.
A essência da crônica é:
a) Tratar de assuntos pessoais;
b) Utilizar linguagem simples e
coloquial;
c) Fazer uso de poucos ou nenhum
personagem;
d) Tom irônico e humorístico;
e) Usado no jornalismo;
f) Textos rápidos e objetivos.
O
Brasil tem muitos cronistas populares. Entre os principais
nomes, vale destacar os seguintes autores:
Antônio Prata
Machado de Assis
Luís Fernando
Veríssimo
Carlos Heitor Cony
Rubem Braga.
Tipos de crônica
Apesar de se tratar de um texto narrativo-descritivo,
a crônica pode ser escrita de formas diferentes e tratar os assuntos
de formas distintas. Entre os principais tipos de crônica, é possível
destacar:
Crônica Lírica ou Poética
O posicionamento subjetivo do narrador e, por vezes, do
próprio escritor é a marca mais distintiva da crônica. Essa subjetividade se
manifesta no modo como a escrita revela os seus sentimentos, valores e modo de
interpretar a vida. Muito frequentemente, a crônica lírica se constrói com uma
linguagem figurada, em que a metáfora e a exploração da sonoridade da frase são
constantes. Há também um tom e uma atmosfera nostálgicos e sentimentais que
tornam as narrativas sensibilizadoras para o leitor.
Os motivos para esse tipo de crônica estão na natureza,
no ser humano (seja homem, mulher, velho ou criança), na presença da vida e da
morte, do amor e da literatura. E o seu texto pode ser em prosa ou em verso.
Entre muitos exemplos, citamos “Sobre o amor,
desamor...”, de Rubem Braga (1998, p. 211).
Crônica narrativa
A crônica narrativa sempre contam com fatos do
cotidiano, acontecimentos das últimas semanas e ações em geral. O texto conta
uma história, seja em 1ª
ou 3ª pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos.
Crônica descritiva
Como o próprio nome diz, se trata de um texto descritivo
sobre uma determinada situação do cotidiano, em algum local, contendo ou
não personagens.
É explorar ao máximo os detalhes do objeto,
local, pessoa ou animal que o cronista deseja descrever.
Crônica humorística
Essa crônica possui característica voltada ao humor,
mas que usa a seu favor a ironia para entreter seu público. Na maioria das
vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento
político, econômico ou cultural de uma forma mais descontraída.
Crônica jornalística
Texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar
e refletir sobre temas da atualidade em uma linguagem um pouco mais leve.
Esse tipo de crônica possui um caráter mais
narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo a leveza textual.
EXEMPLO DE CRÔNICA POÉTICA
Sobre o amor, desamor
(Rubem Braga)
Chega a notícia de que um casal de estrangeiros, nosso amigo, está se
separando. Mais um! É tanta separação que um conhecido meu, que foi outro dia a
um casamento grã-fino, me disse que, na hora de cumprimentar a noiva, teve a
vontade idiota de lhe desejar felicidades “pelo seu primeiro casamento”.
E essas notícias de separação muito antes de sair nos jornais correm com uma
velocidade espantosa. Alguém nos conta sob segredo de morte, e em três ou
quatro dias percebemos que toda a cidade já sabe — e ninguém morre por causa
disso.
Uns acham graça em um detalhe ou outro. Mas o que fica, no fim, é um ressaibo
amargo — a ideia das aflições e melancolias desses casos.
Ah, os casais de antigamente! Como eram plácidos e sábios e felizes e serenos…
(Principalmente vistos de longe. E as angústias e renúncias, e as longas
humilhações caladas? Conheci um casal de velhos bem velhinhos, que era doce ver
— os dois sempre juntos, quietos, delicados. Ele a desprezava. Ela o odiava.)
Sim, direis, mas há os casos lindos de amor para toda a vida, a paixão que vira
ternura e amizade. Acaso não acreditais nisso, detestável Braga, pessimista
barato?
E eu vos direi que sim. Já me contaram, já vi. É bonito.
Apenas não entendo bem por que sempre falamos de um caso assim com uma ponta de
pena. (“Eles são tão unidos, coitados.”) De qualquer modo, é mesmo muito
bonito; consola ver. Mas, como certos quadros, a gente deve olhar de uma certa
distância.
“Eles se separaram” pode ser uma frase triste, e às vezes nem isso. “Estão se
separando” é que é triste mesmo.
Adultério devia ser considerado palavra feia, já não digo pelo que exprime, mas
porque é uma palavra feia. Concubina também. Concubinagem devia ser
simplesmente riscada do dicionário; é horrível.
Mas do lado legal está a pior palavra: cônjuge. No dia em que uma mulher
descobre que o homem, pelo simples fato de ser seu marido, é seu cônjuge,
coitado dele.
Mas no meio de tudo isso, fora disso, através disso, apesar disso tudo — há o
amor. Ele é como a lua, resiste a todos os sonetos e abençoa todos os pântanos.
Rio, setembro, 1957.
— Rubem Braga, no livro “Ai de ti, Copacabana”. Rio de
Janeiro: Record, 2010.
EXEMPLO DE CRÔNICA NARRATIVA
Aprenda a Chamar a Polícia
(Luís Fernando Veríssimo)
Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que
havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa.
Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos
que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro.
Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas
e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que
eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente.
Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o
meu endereço.
Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava
no interior da casa.
Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma
viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse
possível.
Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma:
— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu
quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de
escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro
fez um estrago danado no cara!
Passados menos de três minutos, estavam na minha rua
cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de
TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo.
Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando
tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a
casa do Comandante da Polícia.
No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e
disse:
— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão.
Eu respondi:
— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém
disponível.
EXEMPLO DE CRÔNICA HUMORÍSTICA
A BOLA
O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o
prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento
oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma
bola.
O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse "Legal!". Ou o que os
garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente ou não querem magoar o
velho.
Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa.
- Como é que liga? - perguntou.
- Como, como é que liga? Não se liga.
O garoto procurou dentro do papel de embrulho.
-Não tem manual de instrução?
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos
são decididamente outros.
- Não precisa manual de instrução.
- O que é que ela faz?
- Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.
- O quê?
- Controla, chuta...
- Ah, então é uma bola.
- Claro que é uma bola.
- Uma bola, bola. Uma bola mesmo.
- Você pensou que fosse o quê?
- Nada, não.
O garoto agradeceu, disse "Legal" de novo, e dali a pouco o pai o
encontrou na frente da tevê, com a bola nova do lado, manejando os controles de
um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam
a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela ao mesmo tempo que
tentavam se destruir mutuamente.O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e
raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e
ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como
antigamente, e chamou o garoto.
-Filho, olha.
O garoto disse "Legal" mas não desviou os olhos da tela.O pai segurou
a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de
couro. A bola cheirava a nada.Talvez um manual de instrução fosse uma boa
ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar.
(Luís Fernando Veríssimo)
EXEMPLO DE CRÔNICA JORNALÍSTICA
Bilhete a um candidato
Crônica de Rubem Braga
“Olhe aqui, Rubem. Para ser eleito vereador, eu
preciso de três mil votos. Só lá no Jockey, entre tratadores, jóqueis,
empregados e sócios eu tenho, no mínimo mesmo, trezentos votos certos; vamos
botar mais cem na Hípica, Bem, quatrocentos. Pessoal de meu clube, o Botafogo,
calculando com o máximo de pessimismo, seiscentos. Aí já estão mil.
“Entre colegas de turma e de repartição contei, seguros,
duzentos; vamos dizer, cem. Naquela fábrica da Gávea, você sabe, eu estou com
tudo na mão, porque tenho apoio por baixo e por cima, inclusive dos comunas;
pelo menos oitocentos votos certos, mas vamos dizer, quatrocentos. Já são mil e
quinhentos.
“Em Vila Isabel minha sogra é uma potência, porque essas
coisas de igreja e caridade tudo lá é com ela. Quer saber de uma coisa? Só na
Vila eu já tenho a eleição garantida, mas vamos botar: quinhentos. Aí já estão,
contando miseravelmente, mas mi-se-ra-vel-men-te, dois mil. Agora você calcule:
Tuizinho no Méier, sabe que ele é médico dos pobres, é um sujeito que se
quisesse entrar na política acabava senador só com o voto da zona norte; e é
todo meu, batata, cem por cento, vai me dar pelo menos mil votos. Você veja,
poxa, eu estou eleito sem contar mais nada, sem falar no pessoal do cais do
porto, nem postalistas, nem professoras primárias, que só aí, só de
professoras, vai ser um xuá, você sabe que minha mãe e minha tia são diretoras
de grupo. Agora bote choferes, garçons, a turma do clube de xadrez e a colônia
pernambucana como é que é!
“E o Centro Filatelista? Sabe quantos filatelistas tem só
no Rio de Janeiro? Mais de quatro mil! E nesse setor não tem graça, o papai
aqui está sozinho! É como diz o Gonçalves: sou o candidato do olho-de-boi!
“E fora disso, quanta coisa! Diretor de centro espírita,
tenho dois. E o eleitorado independente? E não falei do meu bairro, poxa, não
falei de Copacabana, você precisa ver como ela em casa, o telefone não pára de
tocar, todo mundo pedindo cédula, cédula, até sujeitos que eu não vejo há mais
de dez anos. E a turma da Equitativa? O Fernandão garante que só lá tenho pelo
menos trezentos votos. E o Resseguro, e o reduto do Goulart em Maria da Graça,
o pessoal do fórum… Olhe, meu filho, estou convencido de que fiz uma grande
besteira: eu devia ter saído era para deputado!”
Passei uma semana sem ver meu amigo candidato; no dia 30
de setembro, três dias antes das eleições, esbarrei com ele na Avenida Nossa
Senhora de Copacabana, todo vibrante, cercado de amigos; deu-me um abraço
formidável e me apresentou ao pessoal: “este aqui émeu, de cabresto!”
Atulhou-me de cédulas.
Meu caro candidato:
Você deve ter notado que na 122ª seção da quinta zona,
onde votei, você não teve nenhum voto. Palavra de honra que eu ia votar em
você; levei uma cédula no bolso. Mas você estava tão garantido que preferi
ajudar outro amigo com meu votinho. Foi o diabo. Tenho a impressão de que os
outros eleitores pensaram a mesma coisa, e nessa marcha da apuração, se você
chegar a trezentos votos ainda pode se consolar, que muitos outros terão muito
menos do que isso. Aliás, quem também estava lá e votou logo depois de mim foi
o Gonçalves dos selos.
Sabe uma coisa? Acho que esse negócio de voto secreto no
fundo é uma indecência, só serve para ensinar o eleitor a mentir: a eleição é
uma grande farsa, pois se o cidadão não pode assumir a responsabilidade de seu
próprio voto, de sua opinião pessoal, que porcaria de República é esta?
Vou lhe dizer uma coisa com toda franqueza: foi melhor
assim. Melhor para você. Essa nossa Câmara Municipal não era mesmo lugar para
um sujeito decente como você. É superdesmoralizada. Pense um pouco e me dará
razão. Seu, de cabresto, o Rubem.
EXEMPLO DE CRÔNICA DESCRITIVA
O RELÓGIO (Crônica descritiva)
O fascínio que o relógio exerce sobre a maioria das pessoas, é
algo que despertou minha atenção ao longo da vida. Quem não sonhou possuir
determinado relógio? Quem não resistiu ao desejo de comprar um alegre cuco ou
um preguiçoso carrilhão?
Outrora, realizei o desejo de possuir um Mido automático, presente
de minha mulher. Ficou no pulso mais de vinte anos. Hoje, descansa em uma
gaveta, aguardando a quinta reforma. Vez por outra volta ao pulso à feição de
talismã.
Diversos modelos foram criados desde o de relógio de sol, passando
pelos raros, de madeira, ocultos nos campanários de algumas igrejas. Em Angra
dos Reis existe um. Talvez seja o objeto com as mais variadas formas de
apresentação e uso. Neste aspecto, destaca-se a funcionalidade, a estética, a vaidade
de quem o usa. É um nicho de mercado que as indústrias perceberam e sabem
explorar muito bem.
Nas vitrines estas máquinas maravilhosas conquistam sempre o
melhor espaço e nas mais das vezes, são realçadas com focos de luz, que lhes
dão ares de jóia. Além dos modernos detalhes, como aço escovado, titânio, vidro
à prova de arranhão – cristal de safira – o brilho é o argumento derradeiro de
capitulação diante das vitrines. Reforçam esta “armadilha”, os desenhos das
caixas, dos mostradores e das correntes, verdadeiras obras de arte a encantar
nossos olhos.
Calcadas na idéia atual de variação de produtos expostos à venda,
algumas lojas reservam local nobre para exporem as maquininhas, ainda que não
sejam relojoarias. Em alguns países há ruas que se transformaram em pontos
turísticos, por concentrarem vendedores e compradores, colecionadores ou não.
Ali se encontram os mais variados tipos, desde os mais antigos, com preços
compatíveis à sua raridade, até os mais modernos, descartáveis, baratos.
Um Rolex no pulso sugere status econômico elevado, vaidade, a
simples realização de um sonho. É também o “caviar” dos ladrões interessados
nesses objetos!
Certa vez chamou-me a atenção um daqueles relógios reluzentes, com
vários ponteiros sobre fundo preto, corrente grossa e cromada. Estava no pulso
do pintor de paredes do prédio onde moro. Sua pele negra e roupas de trabalho
completamente tingidas por pingos de tinta, arco-íris abstrato, realçavam ainda
mais a “jóia”. Não resisti e comentei sobre o visual do relógio. Envaidecido, o
pintor acrescentou alguns elogios, inclusive o de tê-lo comprado por dez reais
no camelô há mais de um ano e estar funcionando perfeitamente. O Rolex e o
“cebolão”, de valores tão distintos, produzem a mesma sensação de prazer...
Ao viajar pelo Brasil, na maior parte das cidades do interior,
encontraremos além da Avenida Getulio Vargas e o Hotel Imperial ou Palace
Hotel, que geralmente não confirmam o conforto que a pompa do nome sugere,
colina onde se destaca igreja com sua torre, que abriga
relógio visível na maior parte da região. Ali está a serviço da
população, mas subliminarmente lembra aos fiéis a presença da igreja.
A propósito, conta-se que um turista, de pilhéria, perguntou as
horas a um matuto, que descansava na grama à beira de uma estradinha de terra,
junto à sua vaca. Após levantar a teta da vaca, o matuto informou a hora exata!
Pasmo, o turista indagou como ele conseguira ver a hora na teta da vaca.
“— Não, doutô, eu levantei a teta da vaca pra vê a torre da igreja lá na
colina!”
Nos elevadores, o relógio é um bom companheiro para tímidos,
inseguros ou estressados. É comum que, ao invés de cumprimentarem ou esboçarem
algum aceno de convívio social, consultem o relógio a cada segundo, e este
gesto se repete até o momento do desembarque! É a vida moderna nos distanciando
uns dos outros.
O fascínio pelo relógio é tal, que acabou por transformá-lo em
objeto de escambo, quase como foi com o sal. Vi ser trocado por bicicleta,
passarinho, por outro de menor valor, mais uma compensação em dinheiro...
Finalmente, como pano de fundo do interesse do homem pelo relógio,
surge o tempo! Essa noção metafísica que nos dá a compreensão de passado,
presente e futuro. Não conheço nada mais socializado que o tempo. É igual para
todos. Ninguém tem mais ou menos do que o outro. Ninguém pode acumular ou
gastar mais do que dispõe. Talvez isso explique a ânsia humana por controlar o
tempo. Milésimos de segundo determinam o vencedor de uma competição, mas horas
parecem milésimos de segundo quando temos nos braços a pessoa amada!
Excluo destas observações aqueles para os quais o tempo não tem
importância.
Atingiram o NIRVANA...
Nilton Deodoro